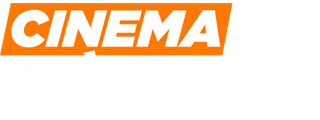Barry (Devon Terrell) está sempre com um livro a tiracolo
É natural que ao fim do ciclo de oito anos de uma das figuras mais carismáticas da história política mundial, filmes resolvam desvendar alguns pontos nessa trajetória. Coincidência ou não, poucas semanas separam o lançamento no cinema de “Michelle e Obama”, de Richard Tanne, da chegada de “Barry”, de Vikram Ghandi, à Netflix.
Além do protagonista em comum, os dois filmes se debruçam sobre o Obama dos anos 1980, décadas antes de sonhar (e conseguir) ser presidente dos Estados Unidos. Se “Michelle e Obama” narra o primeiro encontro de Barack com sua futura esposa, Michelle, na Chicago de 1989, “Barry” vai ainda mais ao passado. Nova York, 1981. Um jovem nascido no Havaí, filho de mãe branca e pai negro e queniano, chega à Grande Maçã para estudar na Universidade de Columbia. Lá, entre a riqueza da faculdade e a pobreza do Harlem, ele acaba aprendendo sobre a carga racial que inadvertidamente teria de carregar por toda a vida.

Aviso: fumar na cama pode causar incêndios
Mesmo que de forma tradicionalista, formal, “Barry” tem o mérito de trazer uma tensão racial de forma didática. Para além de ser alguém que viria a ser um dos homens mais poderosos do mundo (se não “o mais poderoso”), Obama (Devon Terrell) era um garoto mestiço de bom poder aquisitivo e que não se encaixa nem entre brancos, nem entre negros. O filme joga com essa informação, tanto ao mostra dilemas do personagem, como para criticar atitudes dele em relação a sua então namorada, Charlotte (Anya Taylor-Joy). O grande mérito é tratar do tema de forma distanciada, sem condescendência.
“Barry”, no entanto, tem em si um paradoxo curioso. De forma quase infantil, o filme hesita em citar os nomes “Barack” ou “Obama”, como se a identidade do protagonista fosse algum segredo. Ora, quem assiste à obra a escolhe justo por saber de quem ela fala. Por outro lado, a caracterização de Devon Terrell é primorosa como um Obama de 20 e poucos anos. Outra figura marcante é Ashley Judd, que interpreta Ann Dunham, mãe do futuro presidente. Uma aventureira, estudiosa, feminista, meio hippie, antrópologa nascida no conservador Kansas.

Barry e Charlotte (Anya Taylor-Joy)
Algo que também joga contra “Barry” é o ritmo burocrático, expositivo. Há sempre uma introdução aos personagens, antes de eles entrarem de vez na vida de Barack. Acaba que tudo fica repetitivo e se perde uma chance de um mergulho mais profundo nas motivações sociais do protagonista. Há, no máximo, indícios de flerte com socialismo, aproximação com liberais e uma rejeição programada à política, mas tudo isso não raspa a superfície. Pode ser por purismo da história, mas uma cinebiografia também tem direito a tomar liberdades. A linearidade do roteiro, assinado por Adam Mansbach, mantém o ritmo constante, mas nunca surpreende.
Há, no entanto, indícios do que fariam Barry virar o carismático Obama. O basquete como catarse e fuga, o senso de humor afiadíssimo, a capacidade questionadora. É mais um filme sobre potenciais, sobre descobrir quem se vai ser do que sobre quem Obama era aos 20 anos. É algo que funciona, mas também não se prende na mente por mais que algumas horas.
(andrebloc@opovo.com.br)
Cotação: nota 5/8
Ficha técnica
Barry (EUA, 2016), de Vikram Ghandi. Drama biográfico. 104 minutos. Com Devon Terrell e Anya Taylor-Joy.