Por Zélia Sales

Ilustração de Raisa Christina
Para Antonio Miranda
Na estrada que leva pra Santana, depois da ladeira do cajueirão, depois dos tanques, do lado direito, assentada sobre uma parte alta do terreno, havia uma casa.
Era a nossa casa.
Em frente, do outro lado da estrada, também num patamar, havia um campo de terra onde meu pai e seus amigos jogavam futebol. Tinha as traves e tudo. E depois do campo limpo, além dos roçados de milho e feijão, dentro do mato rude, havia um cemitério. O cemitério dos pagãos, criancinhas que haviam morrido sem ter sido batizadas, muitas delas antes de completar um ano de vida. De febres, diarreias, sarampo, mal dos sete dias, quebranto… Era um terreno áspero, cheio de pedras, ali nada poderia medrar, era o roçado da morte. Não havia lápides nem qualquer coisa que pudesse marcar a área como um campo santo, mas todas as mães sabiam exatamente onde estava sepultado o filho morto.
Eu tinha um irmãozinho enterrado ali. Nascera prematuro e sete dias depois já estava no seu caixãozinho de tábuas. Antes de ele dormir definitivamente, na urgência da hora, minha avó pediu uma vela. Com o polegar desenhou uma cruz sobre a testa inocente: “Eu te batizo por Luiz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”.
Da janela daquela casa, eu, menina, contemplava o mundo: o campo, os roçados, a estrada de terra que leva pra Santana, os homens que passavam na estrada, os comboios de jumentos, algum cachorro indolente. E havia um momento, quando não era dia nem era noite, em que o mundo travava. Meu pai descia pela estrada e desaparecia no caminho que dava no rio, uma cuia na mão, dentro um pedaço de sabão, a toalha no ombro, ia tomar seu banho. Da cozinha, a voz da minha mãe que havia pouco cantava, destonava. Não sei se era a casa, o campo, os roçados que se suspendiam, ou se era o céu que descambava. Era um céu pesado, de ferrugem e sangue. E tudo ficava distorcido e borrado.
Era nessa hora em que eu ouvia chorar os anjinhos pagãos. Às vezes um ou dois, às vezes um coro lamentoso e triste. Só eu ouvia? Não tinha medo, mas uma angústia que não me cabia, que pesava como barro e impregnava o mundo justamente naquele momento, no último fôlego do dia.
Mas enfim caía a noite. Meu pai voltava, acendia as lamparinas. Sentávamos à mesa. No fogão à lenha, o chiado dos ovos na gordura tinha aspecto de chuva. Minha mãe trazia os pratos, o baião de dois, o queijo derretendo. Não falávamos nada. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, bocas satisfeitas mastigando a vida sem pressa.
Os pagãos haviam se calado.
***
Zélia Sales
Já fez algumas conquistas na vida e diz que uma das mais ousadas é escrever, publicar, chegar ao leitor, que é sua maior motivação. É formada em Letras e atua na formação de leitores em escolas públicas. Nas voltas que o mundo deu, virou também dona de casa, esposa, mãe, escritora. Enquanto escreve, corrige redações, refoga um frango, procura os filhos pelo Whatsapp. Acredita que escrever é assumir uma conduta subversiva. Ela integra o livro Relicário – produção comemorativa pelos 30 anos do caderno Vida&Arte.


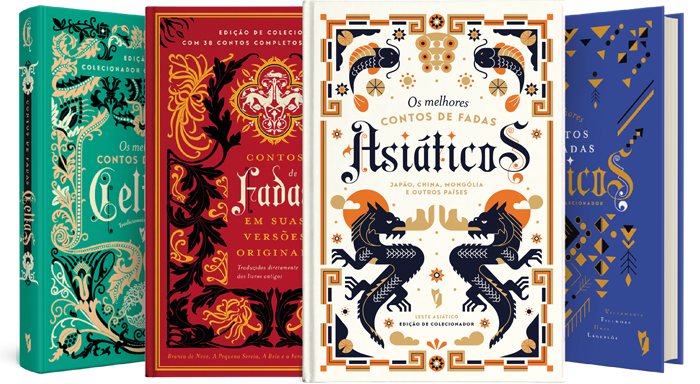


Zélia Sales, você é a maior escritora que eu descobri nesta década! Seu texto é de tal modo lírico, intenso, comovente que eu fico sem palavras. Você causa no leitor um sabor amargo e lírico, porque, com uma linguagem precisa, exata, plena, leva o leitor para dentro de si, para dentro da experiência delicada que emerge de seus parágrafos. Eu não me cansarei de repetir: você é incrível! Inspiradora, prosadora de grande força expressiva, com um domínio da palavra que merece elogios! Eu, que me meto a escrever, sou seu pupilo desde o primeiro segundo do primeiro minuto da primeira hora em que li seus contos. Sucesso! Sucesso! Sucesso! Parabéns!
Parabéns, Zélia e a todos que a leem! A cada conto, a satisfação renovada de uma leitura encantadora! Foi uma honra entrevistá-la no Bazar das Letras Sesc. Recomendo.