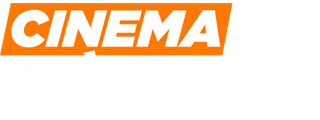Na reta final de 2017, o lançamento de “Bright” era uma das maiores apostas do ano da Netflix. Uma vasta campanha de marketing, aparições dos protagonistas e diretor no Brasil, além da promessa de ser um longa multifacetado, com várias inspirações construídas de uma forma inédita. Enfim, o produto final chegou para todos os milhões de assinantes do serviço de streaming, e o resultado é uma mistura estranha de vários conceitos, que nunca se unem de forma interessante.
É muito dito que não se pode cobrar verossimilhança de uma obra com elementos fantásticos, mas é justamente o contrário. O universo concebido pelo roteirista Max Landis e pelo diretor David Ayer é vago demais para gerar qualquer empatia com o espectador. Na trama, o policial Daryl Ward (Will Smith) é ferido durante o trabalho, enquanto a culpa recai sobre seu parceiro Nick Jakoby (Joel Edgerton). O primeiro policial orc da civilização, Jakoby é visto com preconceito por seus colegas humanos. Tudo se complica quando uma varinha mágica surge, causando a cobiça de gangues, policiais corruptos, elfos e outros orcs presentes na região.
Com exceção da presença de seres fantásticos no nosso mundo, tudo funciona da mesma forma: existe preconceito racial, brutalidade policial, crimes e tudo mais que vem no pacote da nossa sociedade. O problema é que a existência dessas criaturas não gera, de fato, uma grande relevância para a história. Há uma falha clara na concepção do mundo, pois não existe contexto suficiente para a engajar a audiência na trama.
Rechaçado por outros policiais, as dificuldades de Jakoby servem como metáfora para o tratamento recebido por negros nos Estados Unidos. A mensagem, ainda que construída com boas intenções, não se sustenta quando uma gangue de latinos surge em tela, reforçando um estereótipo cansado. Os próprios grupos de orcs sempre aparecem como marginalizados e, portanto, fãs de Hip-Hop.

Criticado por seu trabalho no indefensável “Esquadrão Suicida”, David Ayer perde mais uma oportunidade de mostrar o talento apresentado em “Marcados para Morrer”. Assim como no longa da DC, a direção de Ayer surge inconstante. O primeiro ato é guiado de forma competente, mas se perde nas cenas de ação subsequentes. O excesso de cortes e a falta de unidade das coreografias geram situações difíceis de compreender. O próprio desenvolvimento da história é confuso, com subtramas jogadas de lado no meio do filme e personagens sem propósito algum.
No aspecto de design de produção, a maquiagem surge de forma competente, na maioria das vezes. O visual de Jakoby é realista e consegue passar bem as expressões de Edgerton. Já outros orcs mais parecem vilões dos Power Rangers, enquanto os elfos basicamente possuem cabelo muito liso, orelhas pontudas e olhos brilhantes. As demais criaturas são pouco inspiradas e sem imaginação. As fadas, por exemplo, são quase idênticas aos diabretes de “Harry Potter”, de forma que beiram o plágio.

Com uma performance típica de Will Smith, que precisa o quanto antes rever o rumo de sua carreira, “Bright” possui uma ideia clara do que pretendia fazer, mas não consegue executar nenhuma das intenções com competência. Uma trama confusa, críticas rasas, e cenas de ação que não valem a pena o investimento de 90 milhões de dólares fazem deste um dos piores longas de 2017. É preciso que a Netflix repense sua estratégia de investimentos, ou acabará mais famosa por produções de baixa qualidade que qualquer outra coisa.
Cotação: nota 3/ 8
Ficha técnica
Bright (EUA, 2017). De David Ayer. Com Will Smith e Joel Edgerton.
Longa disponível na Netflix